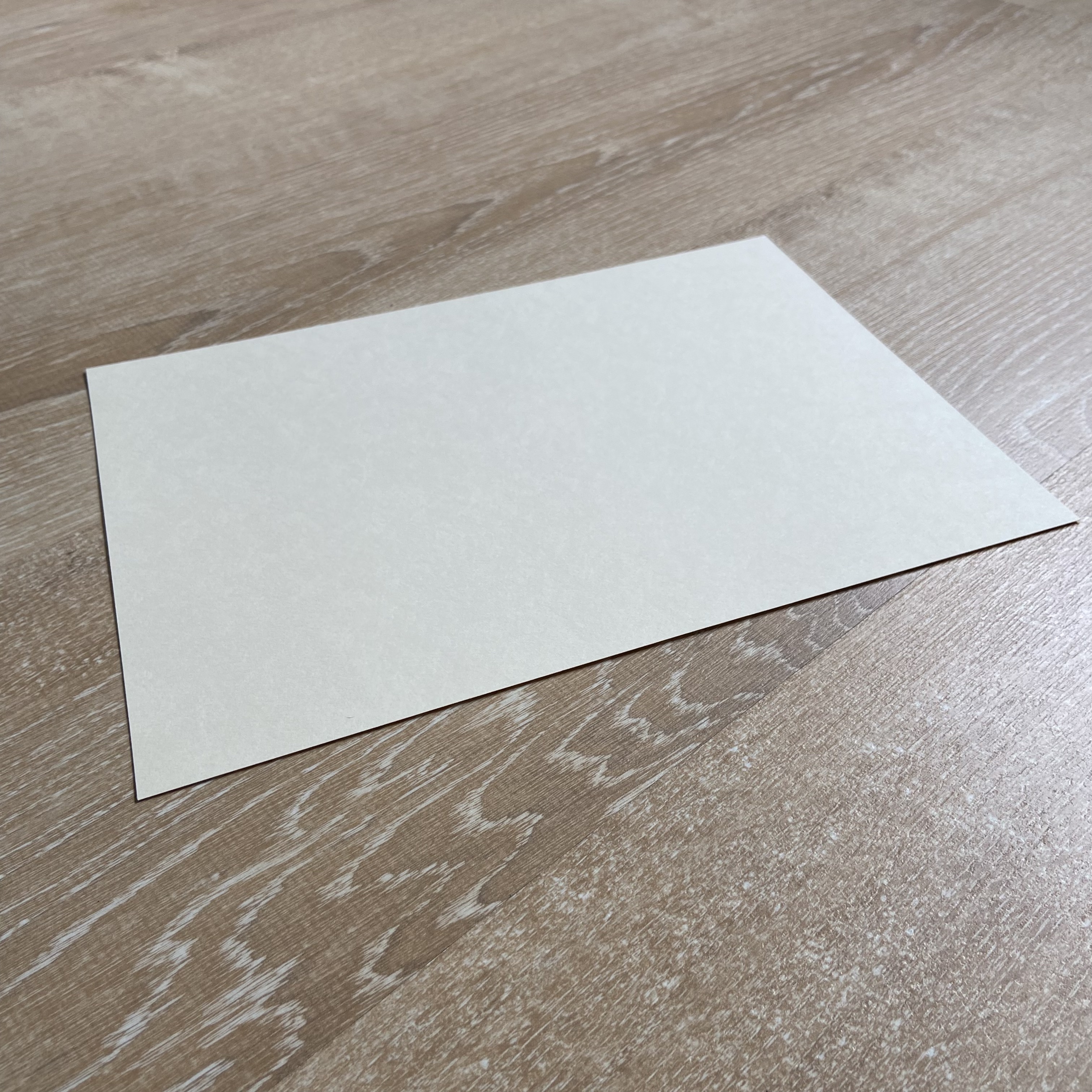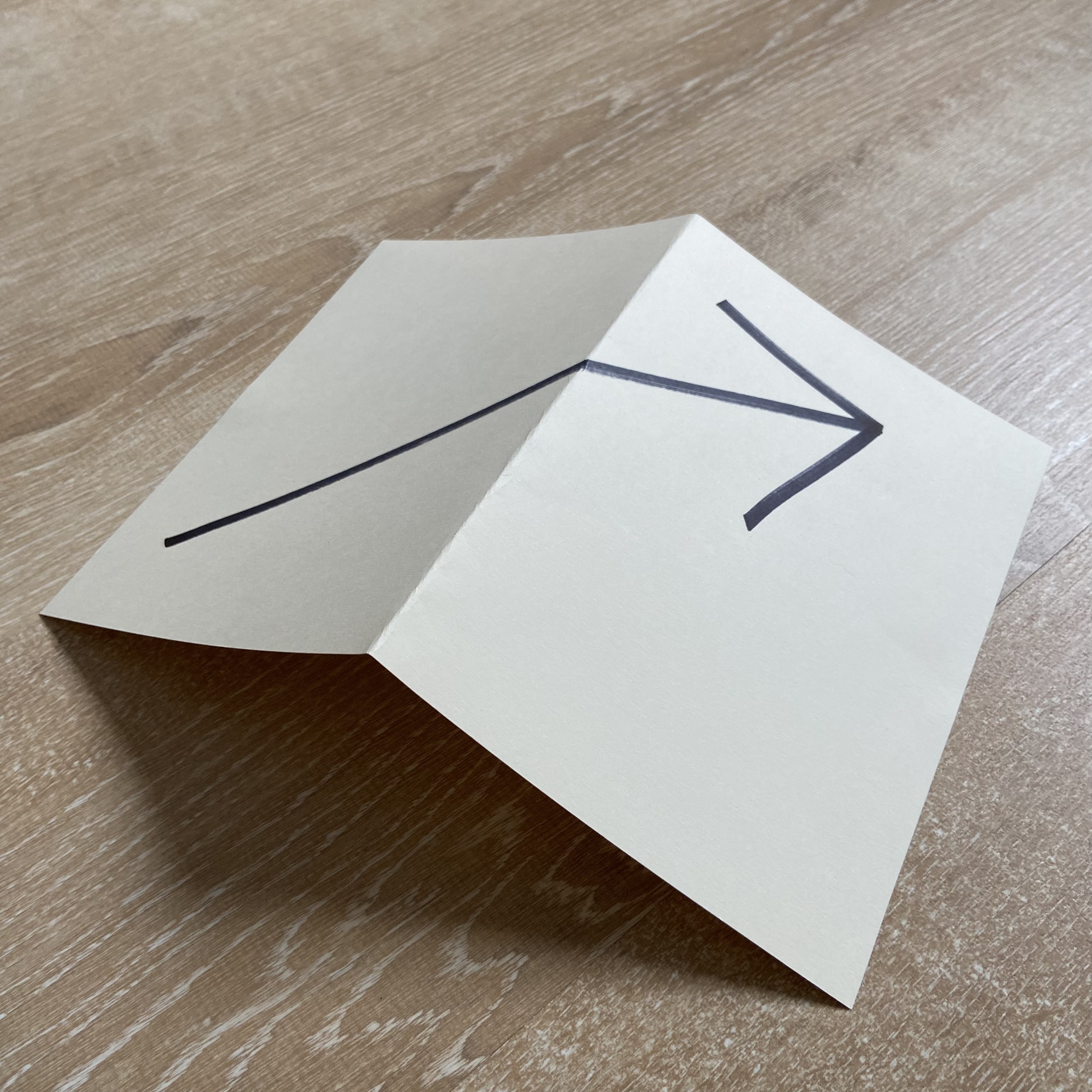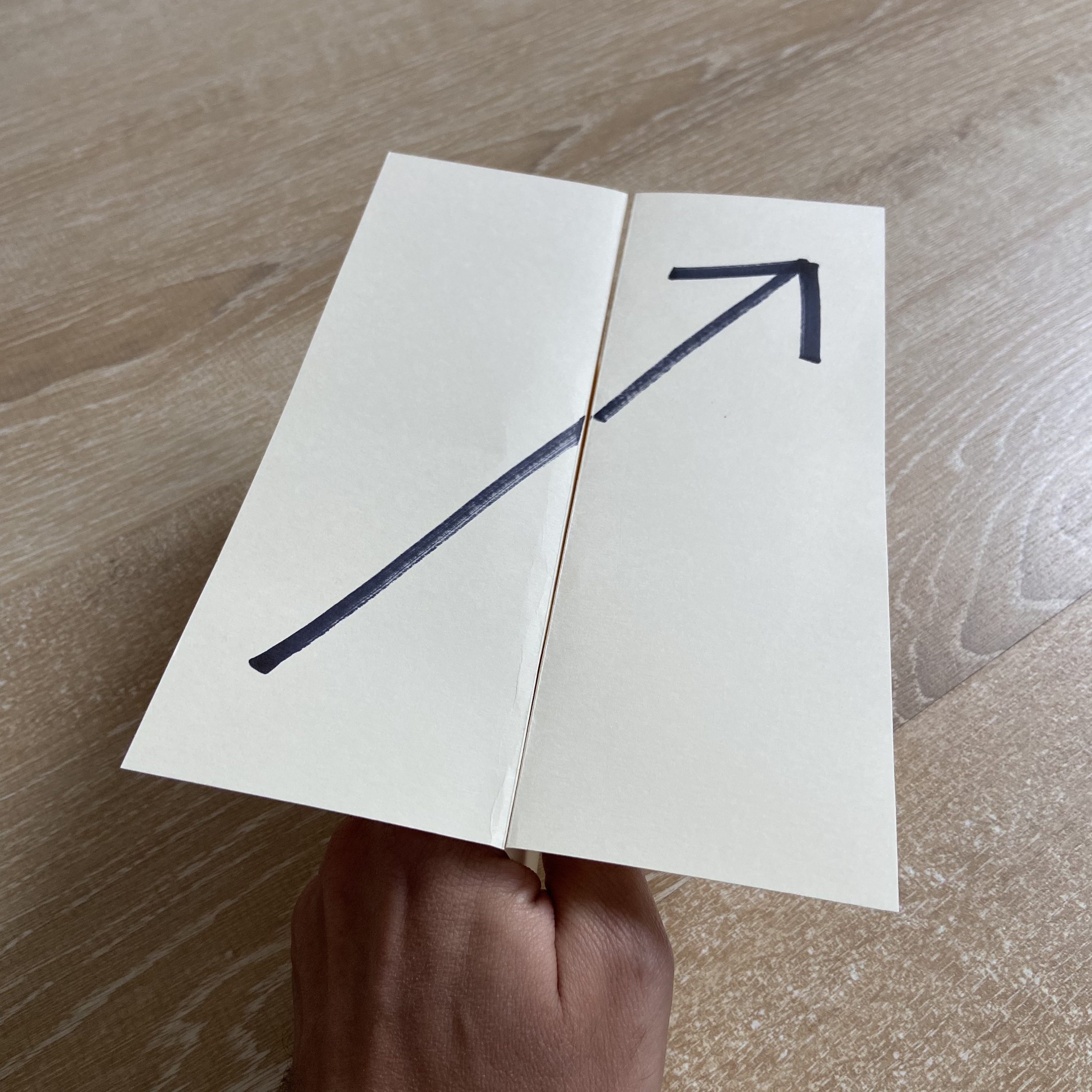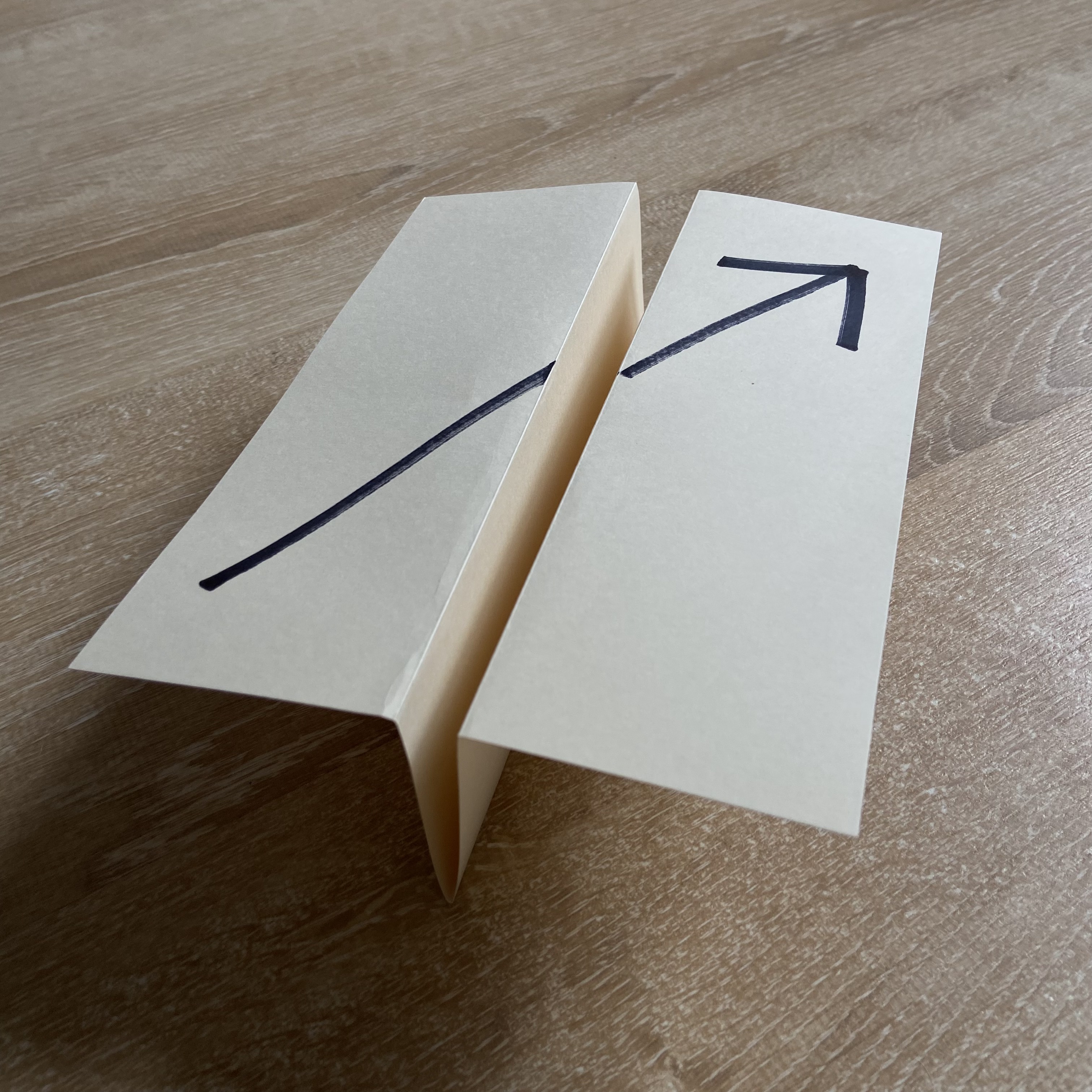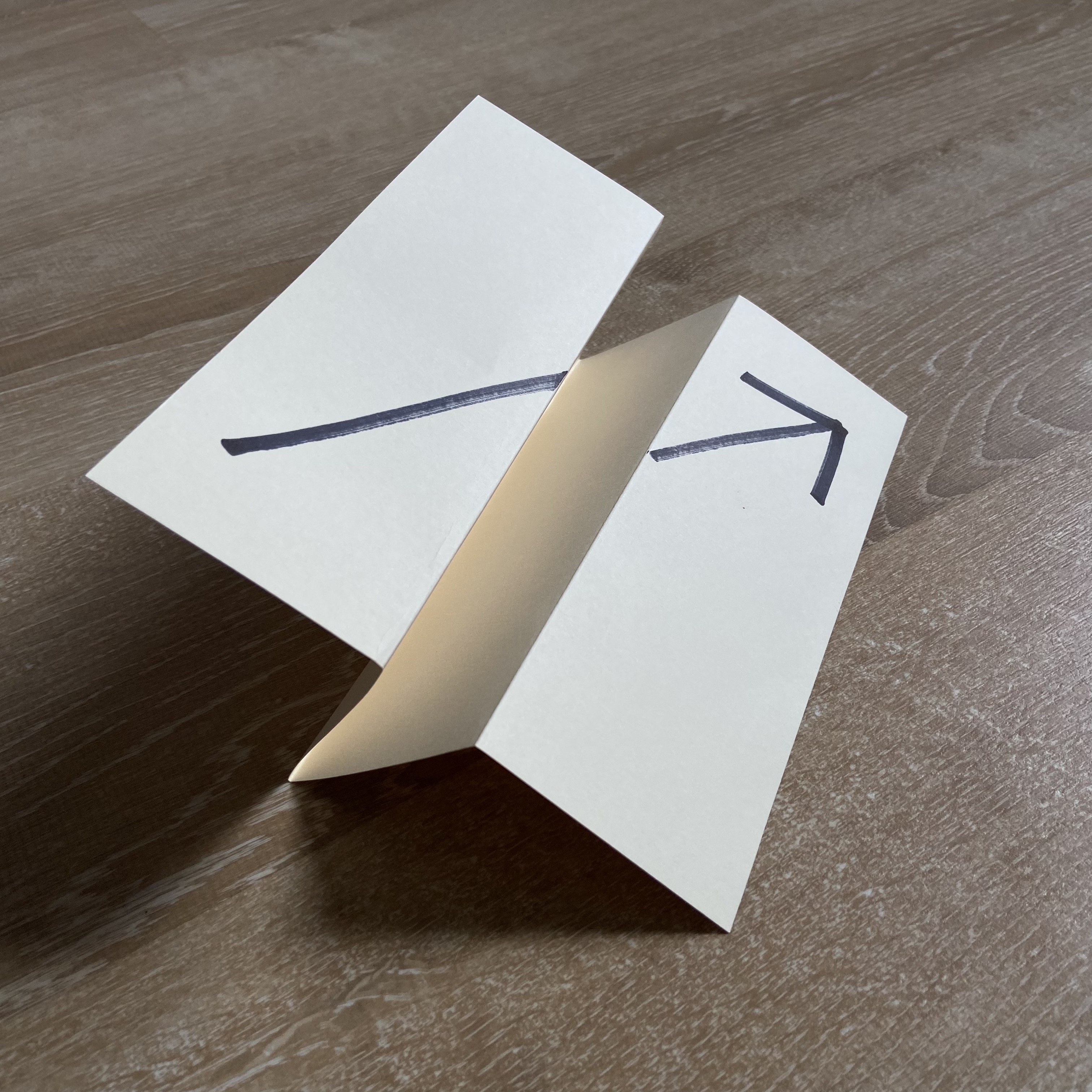Lisboa. 18 março 2024.
Friend,
Ontem meu pai fez 68 anos. Depois que passei dos 30, tenho a impressão de que se tornou mais possível imaginar a mim mesmo nestas idades antes ainda mais distantes. Sempre tive o hábito de fazer esse exercício, tentar fabricar uma imagem minha no futuro. Se me ativesse mais ao presente, talvez de fato fosse uma pessoa menos inquieta e ansiosa (como dizem que acontece), mas futuro e passado me ocupam tanto quanto – se não mais – o agora. E mesmo que muitas vezes me atormente essa mania errante da minha imaginação, a verdade é que não sei se seria capaz de viver de outra forma. A preocupação com a passagem do tempo é algo que me constitui e que norteia minha curiosidade na vida. Certamente minha relação com essa força que rege todas nós – o tempo – será outra se e quando chegar a minha vez de fazer 68 anos. Ou talvez eu descubra, para minha surpresa, que não terei mudado tanto quanto esperava e que, apesar de habitando um outro corpo, meus anseios terão permanecido relativamente ilesos. Desta última hipótese duvido bastante, mas por que temos tanta certeza da mudança?
Busco uma fotografia do meu pai enquanto jovem, ele na beira de um rio, vestindo um minúsculo short e regata, com um bucket hat na cabeça e uma câmera na mão. Ele sorri de olhos fechados, deve ter vinte e poucos anos, deve ser um pouco mais jovem que eu. Mando a fotografia para ele. Ao contrário das minhas tentativas de me imaginar na distância do futuro, ele provavelmente consegue se reconhecer neste momento remoto e sentir no próprio corpo a densidade dos anos. Suponho que seja esse um dos privilégios de envelhecer. Em compensação, à medida que a vastidão de seu passado aumenta, limita-se cada vez mais o espaço de seu futuro. Apesar das diferenças entre nossos atuais pontos de vista, viver seguirá sendo difícil. No entanto, me pergunto se para ele, de onde está, aparecem um pouco mais claras as mudanças pelas quais passou durante sua vida. Talvez pouco do jovem sorridente da fotografia ressoe nele hoje. Talvez, do topo de sua idade, ele enxergue sua vida de maneira episódica, identificando suas muitas versões e os períodos de transição de uma para outra. Ou talvez ele observe seu tempo na Terra de forma mais linear, sua essência permanecendo inalterada através de todas as sinuosidades vividas. Ainda não tive a chance de perguntar a ele de qual dessas duas perspectivas ele se sente mais próximo. Resolvi deixá-lo aproveitar o aniversário em paz.
Foi um artigo de Joshua Rothman na The New Yorker que li esta manhã (“Becoming you”, de outubro de 2022) que me provocou esses questionamentos. Nele, Joshua coloca-nos a pergunta: Com o passar do tempo, permanecemos as mesmas ou aquelas que somos mudam substancialmente? Acho que consigo te ouvir dizendo que todas as pessoas se alteram de forma profunda através dos anos e das muitas experiências que as moldam, mas não acho que essa seja a única resposta. Não sei se meu pai, mirando o jovem da foto, não reconhece um tanto de si mesmo que resta com ele até hoje, aos seus 68 anos. É, certamente, uma questão subjetiva que pertence apenas a cada uma de nós e que será sempre atravessada também pelas circunstâncias nas quais estamos inseridas. Ainda assim, te escrevo sobre isso hoje por duvidar que seja possível exercer sozinho (pelo menos para mim, por enquanto) tal discernimento. Sou capaz de perceber, intelectualmente, as muitas transformações que vivi, em especial nos últimos anos. Mas daqui de onde te envio esta carta-diário, sinto-me impulsionado por uma linha que me conecta diretamente com todos aqueles que já fui, uma linha que atravessa todas as minhas decisões, meus arrependimentos, minhas correções de rota. Uma linha que me impede de dizer simplesmente que sim, as pessoas mudam. Quando releio meus diários, tenho dificuldade de ouvir a mim mesmo como autor daquelas palavras. No entanto, muitas das inquietações guardadas naquelas páginas me perseguem até hoje, mesmo aqui, em Lisboa, passadas as primeiras semanas de encantamento com a viagem. Não vejo nisto evidência de que minha personalidade não se desenvolveu e sei que você concordaria, portanto não consigo deixar de acreditar também que algo em nós se mantém (talvez, em especial, as partes que mais nos incomodam e também aquelas que mais valorizamos). Você que me conhece há tanto tempo com certeza lembra de outras versões minhas, sem que deixe de reconhecer, a cada vez que me encontra, aquele mesmo Gabriel que há tantos anos cruzou por acaso o seu caminho no inverno inglês de Salisbury.
Acho que essa minha inclinação à ideia de continuidade vem do meu interesse, em particular, pela auto-narração. Segundo Rothman, quem adota o costume de narrar a si mesmo pode acabar por entrar em um ciclo auto-realizável, em que aos poucos vamos sincronizando nossa vida com a história que escrevemos e revisamos. (Isso passa, inclusive, pela concepção de ficção que mais me interessa: a ficção não como o oposto da realidade, mas como seu complemento, como seu dispositivo de reconfiguração.) Apesar de me sentir atraído por histórias que suspendem as noções de causalidade e totalidade, parece também haver em mim algo que busca instintivamente os pontos conectados por uma história. Não quero dizer que acredito que isso seja algo que se encontre. Quanto mais tento me aproximar das ideias de começo e fim (ideias que venho buscando compulsivamente nos últimos muitos meses), mais me sinto perdido no meio de tudo. Nessas horas encontro algum consolo em Sarah Manguso, que tentando dar a ver aquilo que por muitos anos a fez manter um diário, conclui que são justamente os meios (mais do que os começos e finais) que sustentam a força do nosso desejo e seguem movendo o sempre que está constantemente acontecendo (não à toda seu livro chama-se Ongoingness).
Constâncias e impermanências à parte, o importante é seguir sendo si mesmo, e pelo sucesso desse desafiador empreendimento devo um tanto a você. É a partir do testemunho das amigas que seguem nos acompanhando pelas tortuosidades da vida, pelas inesperadas e por vezes incoerentes mudanças, que podemos sempre tentar voltar a nós mesmas, mesmo quando esse caminho de volta já não está tão evidente. Depois que passei dos 30, tenho tentado cultivar e proteger ainda mais esse tipo especial de vínculo, aquele ao qual nos enlaçamos para poder arriscar nos perder. Só assim, acredito, é possível afirmar que independente de quem fomos ou de quem nos tornaremos, seguimos investidas na busca.
Com carinho,
Gabriel